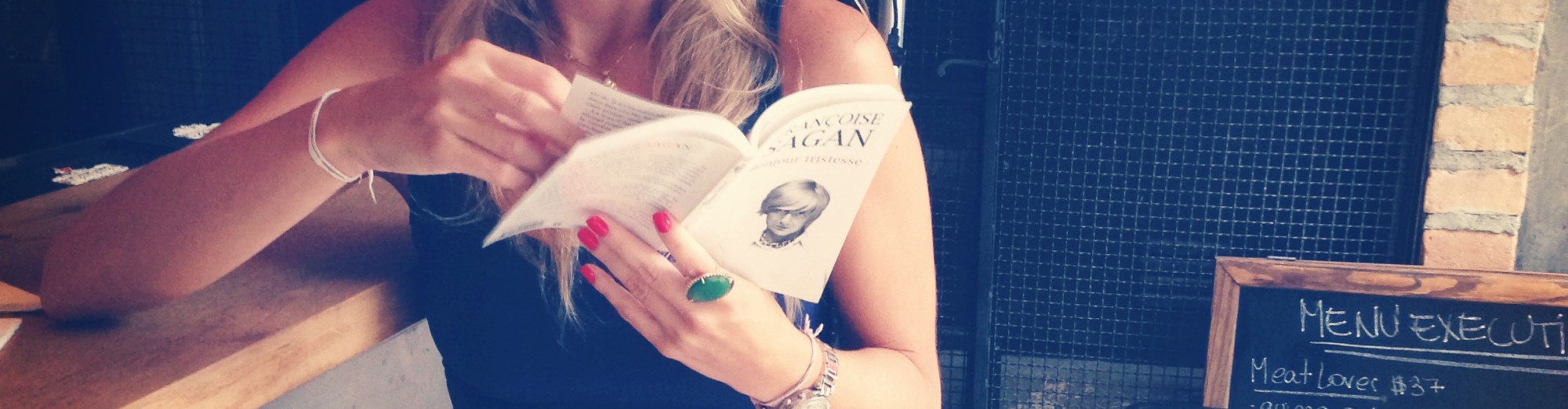Finalmente terminei de ler D’Autres vies que la mienne (em inglês, esta versão aqui), do escritor francês Emmanuel Carrère. A proposta do livro é encantadora: um escritor francês narra em primeira pessoa dois episódios bem íntimos que acontecem a outras pessoas: a morte de uma menina durante o tsunami de 2004, no Sri Lanka, e a morte de uma mulher jovem, lutando contra o câncer, em uma cidadezinha da França. Como ele mesmo diz, «À quelques mois d’intervalle, la vie m’a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d’un enfant pour ses parents, celle d’une jeune femme pour ses enfants et son mari.» (Em apenas alguns meses, a vida me fez testemunha dos dois eventos que mais me causam medo no mundo: a morte de uma criança, por causa de seus pais, e a morte de uma mulher jovem, por causa de seus filhos e marido).
Acho que algo se perdeu na tradução. Dá para sentir que alguns trechos devem ser mais poéticos no original, e que outras construções e metáforas fariam bem mais sentido em francês. Mas se o livro tivesse sido bem construído, a impossibilidade de tradução seria mero detalhe. Chamou a atenção o egoísmo do narrador na primeira parte do livro, em que ele narra a morte de uma criança francesa no meio da tragédia do tsunami. Parece que o pano de fundo é menos a tragédia do que a provação por que seu relacionamento passa naquele momento: a separação é iminente, e ao mesmo tempo a possibilidade de ter um filho com ela não é descartada. O personagem mais forte, e que não sofre tanto com a displicência egocêntrica do narrador, é Phillipe, avô da pequena Juliette.
A segunda parte é confusa, com descrições intermináveis e desnecessárias sobre como funciona o tribunal de pequenas causas na França, e o trabalho tão importante conduzido por Juliette — esta com 33 anos — e Étienne. Gostei da amizade dos dois, mas as referências à incompatibilidade sócio-econômica e intelectual entre cada um deles e seus respectivos cônjuges me incomodou, pois aí, em vez de torná-los mais fortes, o câncer se tornou uma espécie de deficiência que eles tiveram de compensar de outras formas. Tampouco acredito na dicotomia entre amor físico e intelectual que Carrère quis ilustrar aqui: Juliette só consegue conversar de verdade com Étienne, mas guarda um amor afetuoso pelo marido, Patrice. Não creio nesse amor que serve tão bem a narrativas literárias, e tampouco credito as pessoas por trás dele. O amor verdadeiro é complexo e completo, e mesmo nossos amores marginais não merecem ser divididos dessa forma.
O autor fala muito de si, e tem cuidado para revelar apenas o que os personagens desejam que revele. De certa forma, o título é desconstruído a cada instante, pois a vida que não é dele acaba sendo um livro em que ele só fala de si.
Mas se o livro vale a pena — toda boa literatura incomoda — desconfio que seja por causa de uma passagem bem curta em que Carrère fala sobre o que as meninas sentirão depois que Juliette se for. Saudade, pois mesmo as pessoas que não conhecemos, ou com quem passamos um tempo curtíssimo de vida, continuam a viver dentro de nós. E essa mistura de amor e saudade, palavra que não existe nem em francês nem em inglês mas que brotou das páginas do livro, é o que fica da leitura. O sofrimento das pequenas Diane, Amélie e Clara tem mais verdade e literatura do que todo o projeto de Carrère, e em alguns parágrafos de seu livro, eu finalmente entendi o que é essa saudade de ausência que sinto do meu avô há tanto tempo, esse meu avô que nunca conheci mas que me ampara nos momentos mais tristes.
*
Emmanuel Carrère participou da Flip em 2011.